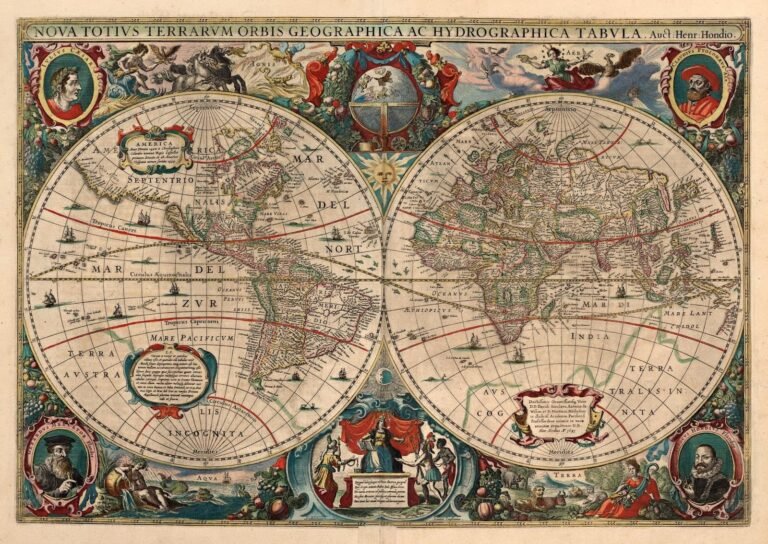A história da violência no Rio de Janeiro mostra que o problema não é um fenômeno recente, mas sim uma crônica histórica enraizada em séculos de desigualdade social, segregação urbana e respostas estatais marcadas pela repressão.
O que hoje se manifesta como uma complexa guerra de facções, milícias e alta letalidade policial é o resultado de uma evolução que vem desde o período imperial, passando pela escravidão, a marginalização pós-abolição, a falência do sistema prisional e o surgimento do lucrativo mercado de drogas.
As Raízes Históricas: Do Império à Exclusão Pós-Abolição
Os indícios da violência urbana no Rio de Janeiro surgem com a chegada da Corte Portuguesa em 1808. A população da cidade dobrou em poucos anos, sobrecarregando a infraestrutura e expondo a profunda desigualdade — mais da metade dos habitantes era composta por pessoas escravizadas. A repressão foi a resposta imediata do Estado: em 1809, Dom João VI criou a Intendência Geral de Polícia da Corte. Inclusive vale conhecer a história do surgimento da Polícia Militar.
Um dos símbolos dessa repressão foi o Major Miguel Nunes Vidigal, subcomandante da Guarda Real de Polícia, cuja missão era “baixar o pau nos vadios e malandros”. Sua fama de brutalidade foi eternizada em Memórias de um Sargento de Milícias (1854) e simboliza a origem da violência policial como instrumento de controle social.
Com a abolição da escravidão em 1888, milhões de pessoas negras libertas foram lançadas à marginalidade, sem acesso a trabalho, moradia ou educação. O Estado republicano, nascido no ano seguinte, manteve a estrutura racial e social de exclusão, criminalizando a pobreza e associando a cor negra à criminalidade. O Código Penal de 1890 — o primeiro da República — incluiu crimes como “vadiagem” e “capoeiragem”, usados para prender e reprimir ex-escravizados e pobres urbanos.
Essa política de exclusão consolidou o que os sociólogos chamariam, no século XX, de “cidadania hierarquizada”: o direito à vida e à segurança não era universal, mas condicionado à classe e à cor. Assim se estabeleceu a base da violência estrutural que atravessaria toda a história do Rio.
Da Urbanização à Proibição: Novo capítulo da história da violência
Durante o início do século XX, o Rio passou por um intenso processo de modernização e higienização urbana. Mais um fato que teve impacto na história da violência no Rio de Janeiro. As reformas de Pereira Passos (1903–1906) demoliram cortiços e empurraram milhares de trabalhadores pobres para os morros — o que deu origem às primeiras favelas, como o Morro da Providência.
A repressão à cultura popular (como o samba e a capoeira) e a criminalização das drogas consolidaram a ligação entre pobreza e violência. A maconha, até então vendida livremente, foi proibida em 1938. O consumo foi deslocado para as periferias e, décadas depois, associado ao tráfico. Já a cocaína, restrita às elites, expandiu-se nos anos 1970 com o avanço do narcotráfico internacional, transformando o tráfico em negócio lucrativo e armado.
A Ditadura Militar e a Institucionalização da Violência
Durante a ditadura militar (1964–1985), a repressão estatal se intensificou e o aparato de segurança foi militarizado. A urbanização acelerada, as remoções de favelas e o controle político criaram as condições para o aumento da violência.
Milhares de famílias foram removidas à força de áreas valorizadas — como Praia do Pinto e Favela do Esqueleto — e reassentadas em conjuntos habitacionais distantes, como Cidade de Deus e Vila Kennedy. O objetivo era “limpar” as áreas centrais e turísticas, mas o resultado foi a consolidação da segregação espacial.
A polícia, transformada em braço da repressão política, reforçou o paradigma do inimigo interno. O treinamento e as operações no período consolidaram a lógica da guerra — que seria herdada pela segurança pública democrática. Foi também nesse período que surgiram os primeiros grupos de extermínio e esquadrões da morte, compostos por policiais e militares fora de serviço, precursores diretos das milícias modernas.
A Revolução do Cárcere: O Nascimento das Facções
O ponto de virada na história da violência carioca foi o surgimento das facções criminosas dentro do sistema prisional, um reflexo da falência do Estado em gerir suas cadeias.
O Comando Vermelho (CV), nascido no final da década de 1970 no presídio da Ilha Grande, surgiu da convivência entre presos comuns e presos políticos. Dessa interação, os criminosos assimilaram noções de solidariedade e disciplina, adotando o lema “Paz, Justiça e Liberdade”. Com o tempo, o CV se tornou uma organização criminosa estruturada, expandindo-se das prisões para o controle territorial das favelas e do tráfico de drogas. Veja como a Ditadura impactou na violência no Brasil.
A partir dele, surgiram dissidências e novas facções, como o Terceiro Comando Puro (TCP) e os Amigos dos Amigos (ADA), que travaram uma guerra territorial que transformou comunidades inteiras em zonas de conflito permanente.
Brizola e a Política de Não Confronto
Nos anos 1980 e início dos 1990, o governador Leonel Brizola tentou implementar uma política de segurança baseada em direitos humanos e na limitação do confronto armado. Foi pela primeira vez uma tentativa diferente de abordagem na história da violência carioca. Ele defendia que a polícia não deveria invadir favelas e que o enfrentamento direto apenas alimentava o ciclo de violência.
Sua gestão apostou em educação, projetos sociais e urbanização como forma de prevenção. O programa dos CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública) simbolizava essa visão: combater a violência pela inclusão, e não pela bala.
Brizola foi duramente criticado pela elite e por parte da mídia, que o acusavam de “proteger bandidos”. Porém, estudos posteriores mostram que durante seus governos a letalidade policial foi significativamente menor que nos períodos seguintes — sem que isso implicasse aumento da criminalidade.
A rejeição política a essa estratégia marcou um ponto de inflexão: o Rio voltou à política de confronto permanente, e a violência explodiu nos anos seguintes.
As Milícias e o Novo Poder Paralelo
A partir dos anos 2000, as milícias emergiram como novo ator dominante. Compostas por policiais, bombeiros e ex-militares, elas se apresentavam como alternativa ao tráfico, prometendo segurança às comunidades. Em pouco tempo, transformaram-se em máfias locais, cobrando taxas de “proteção”, controlando serviços como gás, transporte e internet, e impondo domínio eleitoral em várias regiões da Zona Oeste.
Hoje, segundo o Instituto Fogo Cruzado e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as milícias controlam mais território que as facções de tráfico, e mantêm conexões com setores políticos e empresariais. A violência passou a ser também instrumento de poder político e econômico.
As UPPs e o Ciclo das Promessas Frustradas
Uma tentativa recente de reverter o quadro foi a criação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) em 2008, sob o governo Sérgio Cabral. O projeto buscava ocupar permanentemente as comunidades, reduzir tiroteios e promover serviços sociais.
Porém, a ausência de investimentos sociais, a corrupção militar e a permanência de práticas violentas tornaram o projeto insustentável. A partir de 2013, as UPPs entraram em colapso, e as áreas voltaram ao domínio do crime — seja do tráfico, seja das milícias.
As Chacinas e o Estado Letal Contemporâneo
Nos anos recentes, o Rio de Janeiro tem se tornado símbolo da violência estatal descontrolada. Operações policiais em favelas, justificadas como combate ao tráfico, frequentemente resultam em dezenas de mortos, sem redução real da criminalidade.
Casos como a Chacina do Jacarezinho (2021), com 28 mortos, a Chacina da Vila Cruzeiro (2022), com 23 mortos, e a Chacina da Penha (2023), com mais de 10 mortos e a mais recente Chacina com mais de 60 mortos de 28 de outubro revelam o padrão de operações midiáticas e letais e
Estudos do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que, em 2023, mais de 30% das mortes violentas intencionais no Rio tiveram participação de agentes do Estado. Apesar das promessas, essas operações não reduzem o tráfico — apenas o redistribuem territorialmente, reforçando o ciclo de medo, luto e descrença nas instituições.
Por isso, o combate a violência no Rio de Janeiro é mais marketing, do que de fato uma política de segurança pública.
Estatísticas e Desigualdade: A Dimensão Racial da Violência
O Rio de Janeiro segue na contramão da tendência nacional. Conforme o Atlas da Violência 2025, enquanto o Brasil apresentou queda geral nas taxas de homicídio, o estado teve aumento de 13,6% em 2023.
A violência também tem marcadores raciais claros: mais de 75% das vítimas de homicídio no estado são negras, jovens e moradores de periferias. Essa seletividade evidencia que a violência não é apenas um problema de segurança, mas de estrutura social e racial.
A ausência de políticas de inclusão e a persistência de uma lógica repressiva fazem com que o Estado siga atuando de forma desigual — protegendo uns e punindo outros.